“Um” mundo está em crise e não “o” mundo está em crise.
O problema é que esse mundo, a civilização ocidental moderna, se globalizou às custas do apagamento de muitos mundos.
Na medida em que demonstra ser incapaz de responder aos problemas que cria — desigualdade social abissal e emergência climática, apenas para citar alguns — esse mundo é chamado a se recolher e interromper seu projeto colonizador e globalizante.
As premissas, teorias, práticas, políticas etc. deste mundo, que usamos para nos orientar nele, se mostram não só insuficientes, mas tremendamente equivocadas.
A base desse equívoco é a separação inventada entre natureza e cultura, corpo e alma, matéria e espírito, tradicional e moderno, selvagem e civilizado etc. para justificar a violência sistemática produzida pelos europeus, euro-americanos e elites latino-americanas aos corpos, vidas, territórios e sistemas de conhecimento dos povos que pretenderam escravizar e dizimar para levar adiante a fantasia ocidental do progresso civilizatório.
Os regimes econômicos exploratórios, o atentado contra os ecossistemas naturais, o cancelamento de direitos sociais e de autodeterminação dos povos, o desencantamento do mundo… são os sintomas aparentes do colapso de um modo de existir e habitar que se pretendeu universal e já há muito tempo se mostra assassino e suicida.
Outros mundos resistem e re-existem apesar do confronto colonial. E são estes mundos outros que podem nos oferecer perspectivas e direções radicalmente diferentes daquelas que nos trouxeram até aqui.
O nosso desafio está em ser capaz de dialogar a aprender com eles sem reproduzir dinâmicas coloniais transformando, por exemplo, as cosmovisões e sistemas de conhecimento indígenas e tradicionais em recursos utilitários para nossa sobrevivência.
Ou seja, nós precisamos descolonizar tanto nosso imaginário sobre o que é possível e desejável quanto a nossa forma de nos relacionar com perspectivas outras do que é possível e desejável.
Nesse processo, o primeiro passo é o reconhecimento genuíno da nossa cumplicidade nas violências sistêmicas que garantem nossos privilégios. O segundo passo é a renúncia de alguns dos nossos privilégios — aqueles associados às ideias de autoridade, legitimidade e coerência que tornam o outro insuficiente, equivocado, dispensável. O terceiro passo é alargar nossa capacidade de desaprender e estar desorientado para ser capaz de realmente aprender a se orientar de novas e antes impensáveis maneiras. O quarto passo é, depois de se lançar, sustentar esse processo, sem expectativas e garantias, consciente de que de vez em sempre se ocupará o lugar colonizador do qual se pretendia afastar.
O fio que conduz a descolonização é o da auto-implicação nos processos estruturais. O nosso compromisso deve ser o de assumir que quase tudo que aprendemos, somos e fazemos reproduz dinâmicas coloniais, e interrompê-las. Embora não nos sirva a culpa das coisas serem assim, é nossa a possibilidade e a responsabilidade em fazer diferente.
Esse compromisso pode significar a possibilidade de vivermos de maneira menos ingênua e mais dialógica, de nos relacionarmos de forma mais ampla e responsável e, quem sabe, contribuir na tessitura de um pluriverso onde caibam muitos mundos e co-existem e interagem múltiplos, diversos e complementares modos de participar da vida.
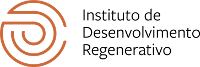

Estou adorando o site. Fiz uma busca por Antroposofia e decolonialidade e li o texto “Descolonizar é preciso”. Ao fazer isso descobri esse blog. Tudo do meu interesse…e num só lugar! Parabéns , lindo projeto. conhecendo aos poucos.
Oi Paulo, obrigada pelo comentário! Antroposofia e Decolonialidade são duas das principais áreas do meu interesse, pesquisa e prática. Mas as conexões entre elas ainda estão por serem feitas.