Ainda que os regimes coloniais institucionalizados tenham acabado, a herança colonial permeia a estrutura social e a mentalidade das pessoas. A colonialidade é a face oculta da modernidade que persiste nos dias atuais. Descolonizar segue sendo preciso e urgente.
Modernidade e colonialidade
A modernização, fruto da doutrina do progresso e da industrialização, foi orientada a partir da narrativa de que “estava a serviço da emancipação social”. Desde o século XVI vigorou o mito original de que há uma evolução linear e unidirecional da natureza para a cultura e de que as comunidades humanas evoluem na medida em que se civilizam (Quijano, 2005). Isto significa distanciar-se da natureza para aproximar-se da cultura.
Cultura, neste contexto, foi entendido como a estrutura social dos europeus orientados pela cosmologia judaico-cristã e pela ciência cartesiano-newtoniana. Ambas cristalizaram a separação entre natureza e cultura. A natureza foi entendida como algo inerte e sem alma e, portanto, sem valor. A cultura foi entendida como um atributo dos sujeitos europeus civilizados com alma e capacidade de racionalizar e, portanto, de dominar a natureza.
A identidade é um subproduto do encontro com a alteridade
É um pressuposto antropológico que as identidades são construídas historicamente no momento do encontro com a alteridade, isto é, do encontro com algo ou alguém diferente de si. A menos que nos encontremos com o que é diferente de nós não temos a necessidade de nos identificar.
Quando, no contexto da colonização das Américas, os povos ocidentais europeus se confrontaram com as populações nativas se definiram como civilização em oposição à suposta primitividade destes povos vinculados à natureza. Isso justificou a prática irracional de violência que submeteu os povos indígenas à civilização europeia, as cosmovisões indígenas à fé cristã e a natureza à ciência ocidental moderna.
Modernidade: emancipação ou dominação?
O mito da modernidade como emancipação social partiu do princípio que a Europa era o centro do mundo, a sociedade mais desenvolvida do globo. Diante da constatação de sua extraordinária civilidade, lhe cabia como exigência moral desenvolver o outro. Desenvolver o outro significou submetê-lo a processos de colonização, com a expropriação de seus territórios, destruição de suas línguas e sistemas de conhecimento em direção a sua própria evolução (Dussel, 1993).
Caso os povos nativos se opusessem ao “desenvolvimento”, uma guerra justa deveria ser estabelecida. A violência seria inevitável e expressão da própria culpa do “selvagem” que não pôde reconhecer o caráter emancipador da colonização. Esta foi a história mítica que legitimou os regimes coloniais e ainda hoje é responsável por fazer perpetuar a mentalidade e as relações coloniais entre nós (Dussel, 1993).
Nos estudos transdisciplinares sobre os processos coloniais persistentes ainda hoje, foram identificadas três formas de operacionalização do ímpeto colonizador. São elas: a colonialidade do poder, do saber e do ser.
Colonialidade do poder
Como expressão do padrão colonial de poder, a imensa diversidade de povos foi jogada para dentro de categorias raciais. Inúmeras etnias indígenas viraram “índios”, inúmeras etnias de povos africanos viraram “negros”. A categorização dessas etnias a partir do critério racial foi uma forma de legitimar a colonialidade já que as raças tinham uma suposta explicação biológica e, portanto, a hierarquização entre elas era considerada natural (Quijano, 2005).
Além da racialização dos povos para estabelecer relações de subordinação legitimadas pela ciência e pelos estados, uma outra expressão da colonialidade do poder se deu na maneira como a natureza foi entendida e explorada.
Devido ao caráter exterior e inferior da natureza em relação à cultura, à ciência e à civilização, a exploração da natureza não precisou de nenhuma justificativa. Pelo contrário, reinou uma ética de exploração produtiva naturalmente aceita e esperada no contexto do progresso, do avanço civilizatório e do crescimento econômico infinito.
Desse modo, os territórios sagrados e ancestrais dos povos indígenas e tradicionais foram convertidos em meios para a acumulação capitalista. A exploração indiscriminada de recursos naturais se tornou uma prática não apenas comumente aceita, mas globalmente normatizada.
Colonialidade do saber
Na dimensão do saber, a razão colonial ocidental reivindicou para si o status de epistemologia superior diante os sistemas de conhecimento nativos. Considerados sem alma e/ou razão e, portanto, sem a capacidade de compreender adequadamente o mundo, os povos nativos foram subalternizados, folclorizados e invisibilizados.
Isso é gravemente importante porque à medida que se constrange as cosmovisões dos povos, retira-se deles a possibilidade de reivindicar uma ação no mundo orientada por suas próprias narrativas, religiosidades e linguagem. Isso gera um profundo enfraquecimento existencial deixando os povos culturalmente vulneráveis à força mítica da narrativa colonizadora.
Tudo aquilo que não é ciência convencional e discurso especializado continua até os dias de hoje sendo deslegitimado. Com a descredibilização das múltiplas cosmovisões e formas de apreender o mundo dos povos que compõem a diversidade humana, consagrou-se o privilégio epistêmico dos brancos e a naturalização do racismo epistêmico (Mignolo, 2003).
Para comprová-los basta ver a quantidade de autores indígenas, negros e latinos que estão presentes na bibliografia dos cursos de graduação e pós-graduação das universidades no mundo. Essa diferença colonial entre aqueles que reivindicam para si o título de descobridores e aqueles que foram considerados, equivocadamente, descobertos marca uma geopolítica do conhecimento (Mignolo, 2003). Ou seja, a produção intelectual reconhecida pelo seu valor intrínseco é aquela produzida por sujeitos situados nos centros colonizadores.
Colonialidade do ser
A máxima cartesiana “penso, logo existo” é uma expressão clássica da ciência moderna. Por detrás desse “eu” que existe à medida que pensa, há um “eu” que existe à medida que domina e conquista.
O método cartesiano tem como etapa fundamental separar o todo em quantas partes seja necessário para, através do domínio sobre as partes, compreender o todo. Dessa forma, conhecer está intimamente relacionado a dominar. Para se conhecer um objeto, deve-se dominá-lo. Maldonado-Torres (2007) argumenta que por trás do ego cogito (eu pensador) há um ego conquiro (eu colonizador).
Conquisto, logo penso.
Penso, logo existo.
Portanto, conquisto, logo existo.
Conhecer o desconhecido, no contexto da ameaça da existência, sempre esteve associado a dominá-lo. Diante a selvageria do ambiente natural das Américas, a natureza foi considerada uma ameaça. Diante as idiossincrasias dos povos ameríndios, eles foram considerados um risco aos europeus.
Desde então separar, subjugar e dominar fundamenta a prática da política e da ciência modernas. De um lado, os colonizadores e a ciência moderna. De outro, a natureza e os corpos nativos — objetos de conhecimento, controle e dominação. No contexto dos colonialismos passados e da colonialidade contemporânea, o “penso, logo existo” se transformou em “outros não pensam, logo são dispensáveis”.
Isso se aplica tanto à natureza quanto aos povos que a representam — os povos da floresta, das águas e do campo.
Decolonialidade
Nem todas as pessoas privilegiadas pela sua cor, etnia, situação socioeconômica e cultural são culpadas pelos “crimes” cometidos em seu nome. Mas, como beneficiárias destes “crimes”, elas têm a responsabilidade de se tornarem parte da solução. Somos convocados nesse momento histórico a nos tornarmos parte da solução. Muitas são as formas de operacionalizar a decolonialidade de nós mesmos e da sociedade na qual estamos inseridos.
Estamos falando de decolonialidade em oposição à colonialidade que subsiste mesmo após o fim dos estados coloniais. Descolonização, no contexto da contribuição acadêmica do “paradigma decolonial”, se refere à superação da colonização de estado enquanto decolonialidade se refere à superação da colonialidade que persiste, cresce e se reproduz em paralelo com a modernidade.
Decolonialidade do poder
Para além de “políticas de identidade”, isto é, programas sociais de inclusão das “minorias” que naturalizam e reforçam identidades cunhadas pelo paradigma colonial, devemos trabalhar para que seja incorporada a “identidade na política” através da desobediência política e epistêmica (Mignolo, 2008).
Isso significa incorporar nas políticas e legislação nacionais, estaduais e municipais projetos construídos por sujeitos que representam etnias e sistemas de conhecimento subalternizados. Esses projetos políticos devem nascer das cosmovisões e sabedorias invisibilizadas pelo paradigma colonial moderno e devem informar o que é justo e ético para toda uma nação que, desde a sua origem é, inevitavelmente, pluriétnica.
As vozes subalternizadas devem ter seu espaço assegurado para operacionalizar estratégias de amplitude nacional para a gestão da Terra e das relações entre grupos culturalmente diferenciados, para negociações justas de interesses, para a superação das injustiças socioecológicas etc. A nós cabe a tarefa de impulsionar a inserção das possibilidades apontadas pelos mundos não-ocidentais para dentro da política global para que possamos construir um futuro e lugar comum, um mundo desejável e melhor do que esse.
As constituições da Bolívia e do Equador são exemplos disso. Nelas, o conceito e legislação referente à natureza e aos recursos naturais são substituídos pela noção nativa de Pachamama. Na cosmovisão andina, Pachamama corresponde a um organismo vivo com direitos próprios. Esta foi a primeira vez que uma entidade não-humana foi elevada à condição de sujeito de direito no universo constitucional.
Ambas constituições fazem parte do novo constitucionalismo latino-americano que encarna uma cosmopolítica mais pluralista. Elas têm no buen vivir, a ética andina, o fundamento de desenvolvimento humano e social dos seus estados. Este é um exemplo vivo de como podemos começar a transição decolonial de uma norma antropocêntrica para uma norma biocêntrica informada por sistemas de conhecimento não-ocidentais.
Decolonialidade do saber
Para a decolonialidade do saber é fundamental o questionamento do rigor e método científico moderno como único critério que confere credibilidade e legitimidade ao conhecimento. Tão importante quanto é a constatação da incompletude dos conhecimentos que possibilita o diálogo de saberes. Só assim é possível superar as ignorâncias particulares e tornar possível a conversão de “práticas diferentemente ignorantes” em “práticas diferentemente sábias” (Santos, 2010).
Alguns exemplos da decolonialidade do saber podem ser vistos em algumas universidades de base pluriétnica. A Pluriversidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi tem como visão de futuro revitalizar a prática do diálogo de saberes com equidade epistêmica. Ela se propõe a fazer isso promovendo uma relação harmônica entre a “mãe natureza, o cosmos e o ser humano” cuja tradução empírica é a própria filosofia do bem viver andino.
A Universidade da Floresta, no Acre, de modo semelhante, sintetiza a luta dos acreanos na busca pela “florestania” – uma cidadania coerente com as demandas e potencialidades dos povos da floresta – e oferece uma formação contextualizada e cooperada com as populações locais motivada pela inclusão acadêmica de povos indígenas, seringueiros e camponeses.
Decolonialidade do ser
Para a decolonialidade do ser é fundamental superar a noção de tempo linear que caminha unidirecionalmente da tradição para a modernidade. Precisamos incorporar a multitemporalidade, isto é, a coexistência do tradicional e do moderno dentro de nós.
Isso passa pelo resgate de algumas competências humanas que foram sufocadas pelo “eu colonizador” e que se faz presente no jeito de ser e viver de povos nativos: abertura ao mundo ao invés de fechamento, engajamento ao invés de separação, senso de assombro ao invés de controle e previsibilidade (Ingold, 2013).
Na qualidade de uma presença que cultiva abertura, engajamento e assombro existe a possibilidade de ser sempre surpreendido, tocado, encantado, transformado. É essa qualidade de presença que garante a coexistência entre humanos e natureza e entre povos culturalmente diferentes.
Nas línguas nativas não se vê expressões como “na verdade” ou “isso é realmente”. Diferente de nós, eles não reivindicam a legitimidade única de um discurso ou prática em detrimento de outros (Stengers, 2017). Eles permitem que a interdependência e interexistência os conduzam. E assim se entendem como partícipes da criação do mundo junto com outros seres e saberes tão fundamentais e legítimos quanto.
Para a nossa descolonização pessoal, precisamos renunciar ao nosso desejo de ser especial – de ser legitimado com a deslegitimação do outro. Para efetivar a decolonialidade é importante pensar a partir da presença concreta do outro desde um esforço sincero de engajamento e aprendizado mútuo. Devemos fazer da nossa experiência cotidiana a oportunidade de aprender e praticar uma maneira decolonial de encontro com aquele que é diferente de nós.
Começando já
E como seria se ao invés de usarmos “mas”, “na verdade” e outras expressões que reivindicam para nós a legitimidade, nós usássemos “e”, “além disso” e outras expressões que, ao invés de criar oposição, somam perspectivas?
O “de fato”, “isso é realmente” quando afirmamos algo e o “não é bem assim”, “na verdade”, “na realidade” quando estamos nos contrapondo a alguém nascem da premissa de que só um pode estar correto e, portanto, só um tem o acesso à verdade e legitimidade na exposição de seus argumentos.
Quando escutamos o que o outro tem a dizer, ativa e profundamente, e ao final da sua fala queremos expor a nossa perspectiva, que se difere da dele, podemos começar por: “além disso, eu penso que”, “em um sentido diferente do que você trouxe, eu entendo que”. Assim, está implícita a premissa de que diferenças não precisam ser antagonizadas e de que diferentes perspectivas podem, mesmo divergindo em sentido, revelar faces de uma realidade mais ampla.
Em uma aldeia no interior do Brasil, uma mulher ocidental advertiu as mulheres indígenas a ferver a água para as crianças não terem diarreia. Uma mulher indígena respondeu à mulher ocidental “aqui as crianças não têm diarreia ao ingerir a água do rio”. A mulher ocidental disse “não senhora, é a água do rio que dá diarreia, você deve ferver a água”. A mulher indígena respondeu “talvez onde você vive seja diferente, aqui na aldeia as crianças têm diarreia quando bebem água fervida”.
A mulher ocidental reivindica para si o monopólio da verdade a partir da premissa de que há uma única verdade funcionando universalmente em contextos diferentes. A mulher indígena tenta explicar que o que vale na cidade não se aplica na aldeia sem negar a informação que a mulher ocidental traz. Ao invés de criar uma guerra entre duas verdades que se pretendiam universais, a mulher indígena trouxe a sua perspectiva a partir do seu contexto.
Tomar como certo que a nossa experiência é restrita e, portanto, nossas perspectivas são limitadas e usar “a partir do meu contexto e, eu entendo que” ou “a partir da minha experiência, a minha necessidade é” para expor divergências é uma boa maneira de começar a descolonizar as nossas relações.
Referências
DUSSEL, Enrique (1993). O encobrimento do outro: A origem do mito da modernidade.
INGOLD, Tim (2013). Repensando o animado, reanimando o pensamento.
MALDONADO-TORRES, Nelson (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto.
MIGNOLO, Walter (2008). Desobediência epistêmica: A opção descolonial e o significado de identidade em política.
MIGNOLO, Walter (2003). Histórias locais, projetos globais: Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar.
QUIJANO, Aníbal (2005). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.
SANTOS, Boaventura Sousa (2010). A gramática do tempo: para uma nova cultura política.
STENGERS, Isabelle (2017). Reativar o animismo.
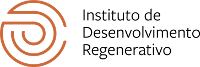

Texto maravilhoso, Juliana! Me sinto muito agradecida e agraciada ao ler suas palavras, tão inspiradoras, quanto este paradigma que tanto tem me motivado em meus estudos acadêmicos e vivências pessoais. Gostaria de trocar mais com vc! Bjs
[…] Para saber mais sobre a construção do modo de ser colonial e sobre o que estamos fazendo hoje para superá-lo, acesse aqui. […]
Ynatekié. Gratidão pelas palavras. São muito necessárias neste tempo.